 |
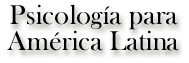 |
 |
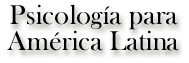 |

Este estudio busca mostrar la existencia del estigma en madres que dejan a sus hijos en instituciones, siendo considerados ni�os descompuestos y diminutos. Fue hecho un rescate de los aspectos hist�ricos y sociales del abandono de ni�os y sobre el mito del amor materno, que trae la idea de que la madre debe amar a sus hijos de forma incondicional. Constatamos tambi�n que el estigma impide de que miremos el conjunto de circunstancia, que hace que las madres otorguen su responsabilidad de protecci�n a la institucion. Siendo as�, viven el luto no franqueado, que es un luto no autorizado socialmente que contribuye para intensificar el sentimiento de culpa.
Palavras claves: Estigma, mito del amor materno, luto no franqueado, instituci�n, madres.
Estigma Em M�es Que Deixam Seus Filhos Em Institui��es
Este estudo procura mostrar a exist�ncia do estigma em m�es que deixam seus filhos em institui��es, sendo consideradas criaturas estragadas e diminu�das. Foi feito um resgate dos aspectos hist�ricos e sociais do abandono de crian�as e sobre o mito do amor materno, que traz a id�ia de que a m�e deve amar os filhos de maneira incondicional. Constatamos tamb�m que o estigma impede de olharmos para o conjunto de circunst�ncias, que faz com que as m�es outorguem sua responsabilidade de prote��o � crian�a a uma institui��o. Sendo assim, elas vivem o luto n�o franqueado, que � um luto n�o autorizado socialmente que contribui para intensificar o sentimento de culpa.
Palavras-chave: estigma, mito do amor materno, luto n�o franqueado, institui��o, m�es.
Stigma in mothers who leave their children in institutions
This research tries to show the existence of a stigma on mothers who leave their children in institutions and who are considered impaired and inferior . We�ve done a research about the social and historical aspects of the act of abandoning children as well as about the myth of maternal love , which brings us the idea that a mother has to love their children in an unconditional way. We�ve also found out that this stigma prevents us from looking at all the circunstances that make mothers give their responsibility of protecting their children to an institution . In this way , they live a non franchised mourning , that is, a mourning not authorized socially which contributes to intensify these mothers' feelings of guiltiness.
Key words: stigma, myth of maternal love, non franchised mourning, institution, mothers.
O interesse pela presente pesquisa se deu devido a situa��es observadas numa institui��o. Algumas m�es apresentam dificuldades ao deixar seu filho no abrigo, que as vezes entra chorando. Neste momento o sofrimento de ambos aparece de forma evidente.
Um outro interesse foi despertado atrav�s das leituras referentes ao assunto, em que h� muitos estudos sobre crian�as abandonadas, dentre os quais, podemos citar os autores Chaves (1998), Marc�lio (1998), Guirado (1979). Mas h� poucos estudos sistem�ticos sobre as m�es que deixam o filho na institui��o. Alguns estudiosos, como Motta (2001), reconheceram a indiferen�a que persiste em rela��o a essas m�es. Apesar da relevante import�ncia do tema, poucos trabalhos cient�ficos foram publicados, por isso, percebemos a necessidade deste estudo que tem como objetivo verificar se h� estigmas nas m�es que deixam os filhos em institui��es.
A institui��o contexto deste estudo foi fundada em 1885, por Padre Jos� Marchetti, da Congrega��o dos Mission�rios de S�o Carlos, para atender �rf�os de imigrantes italianos, que perdiam suas vidas no mar, durante as viagens de �vapor� do pa�s de origem com destino ao Brasil. Por�m, segundo Di Siervi (2002), desde o in�cio de suas atividades, o orfanato recebeu crian�as �rf�s filhas de imigrantes de outras nacionalidades e de brasileiros, incluindo negros e �ndios. Ainda para essa autora, o objetivo inicial do orfanato era oferecer p�o, educa��o e trabalho, pois oferecia cursos profissionalizantes de tipografia, carpintaria, ferraria, serralheria, alfaiataria, padaria e agricultura.
Atualmente a institui��o se mant�m em regime de abrigo gratuito, atendendo cerca de 120 meninos e 100 meninas. Essas crian�as estudam na pr�pria institui��o, que disp�e de salas de aulas e professores. As crian�as ingressam na institui��o na faixa et�ria de seis a sete anos e nela podem ficar em regime de abrigo gratuito at� � conclus�o da quarta s�rie do ensino do primeiro grau. As crian�as permanecem durante a semana e v�o para suas casas no final de semana.
Para Chaves �o fen�meno social do abandono de crian�a coloca-se como um problema de investiga��o psicol�gica porque afeta tanto a produ��o da subjetividade da crian�a como a do adulto que a abandona�. (CHAVES, 1998, p.8)
Chaves (1998), a partir de sua pesquisa, verificou que nos diferentes momentos da hist�ria, as crian�as abandonadas foram chamadas de expostos, enjeitados, mendigos, delinq�entes, menores, pivetes ou meninos e meninas de rua. A sociedade retira a responsabilidade de prote��o e identifica-as como um grupo de crian�as que s�o amea�adoras, perigosas e incorrig�veis devido a neglig�ncias dos pais ou respons�veis por elas. Mas para esse autor, essas crian�as s�o, na verdade, desprotegidas. Ele distinguiu um conjunto de oito categorias, por�m em nosso trabalho destacamos a seguinte: �Crian�as cujos pais outorgam a sua responsabilidade de prote��o a uma institui��o. S�o crian�as que t�m pai ou m�e ou ambos; s�o pobres; os pais n�o podiam sustent�-las�. (CHAVES, 1988, p.434)
Para falarmos da m�e que abandona os filhos, faz-se necess�rio resgatar a condi��o hist�rica do abandono que, segundo Chaves (1998), � um fen�meno produzido socialmente, que se d� nas rela��es sociais entre os indiv�duos. Assim pode-se pensar o abandono como decorrente da pr�tica de pais biol�gicos, que diz respeito ao micro-grupo fam�lia e tamb�m o abandono em decorr�ncia de pr�ticas da sociedade (macro-social). Na perspectiva do abandono produzido socialmente deve-se levar em conta as mudan�as culturais que constru�ram diferentes concep��es de abandono de crian�as.
Segundo Marc�lio (1998), para os Romanos, o aborto de crian�as era comum, e quanto �s crian�as livres:
Embora por lei elas n�o pudessem tornar-se escravas (apenas servas), muitas das abandonadas foram reduzidas a essa condi��o. Outras, foram submetidas a abusos; algumas foram estropiadas (torciam-lhes os bra�os ou as pernas, quebravam-lhes membros, ou furavam-lhes os olhos), para servirem a mendigos que, assim, pensavam poder alcan�ar melhor a piedade p�blica. (MARC�LIO, 1998, p.24)
Para Chaves (1998), o abuso contra a crian�a, a mutila��o de seus �rg�os, o abandono, a morte e todo tipo de barb�rie a que as crian�as estiveram submetidas era considerado necess�rio para domar sua natureza considerada perversamente inata, sendo que as puni��es violentas constitu�am a pr�tica educacional.
Percebemos que n�o havia na antig�idade a preocupa��o com a crian�a, como na modernidade, pois os adultos preservavam a crian�a somente se esta pudesse servir de alguma utilidade. As pr�ticas sociais �s quais as crian�as estavam submetidas eram concebidas como necess�rias e naturais.
O tratamento que se dispensava �s crian�as tornou-se discut�vel, quando estas deixaram de ser consideradas pequenos adultos e passou-se a atribuir-lhes alguma especificidade. Segundo Philippe Ari�s (1981), a descoberta da inf�ncia come�ou no s�culo XII e sua evolu��o pode ser acompanhada na hist�ria da Arte e da iconografia dos s�culos XV e XVI. Contudo, os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se numerosos e significativos no final do s�culo XVII. Assim um novo sentimento de inf�ncia come�ou a ser formulado no s�culo XVIII e se consolidou no s�culo XIX. A partir desse momento, a crian�a passou a ser claramente reconhecida e identificada.
Reconhecida a crian�a como uma entidade diferente do adulto, com especificidades que requeriam uma aten��o diferenciada, a preocupa��o com o seu desenvolvimento exige novos modelos de rela��o adulto-crian�a, passando-se a rejeitar gradativamente o padr�o de comportamento do adulto ao qual a crian�a esteve submetida at� esse momento. As formas de rela��o, de tratamento, de cuidado e prote��o aparecem, ent�o, n�o mais como naturais, mas socialmente determinadas em fun��o da emerg�ncia de uma nova concep��o de crian�a. A crian�a deixa de ser um adulto em miniatura e exige um tratamento que considere as suas especificidades. (CHAVES, 1998. p.3 )
A partir deste momento a crian�a passa a ficar sempre sob os cuidados maternos, colocada como natural a tend�ncia da m�e proteger o filho.
Badinter (1985) nos mostra de maneira muito clara que o amor materno inato � um mito. Torna evidente que este sentimento, considerado como o mais puro e genu�no, que coloca a m�e acima de todas as coisas, pode ser situado historicamente. Ele � adquirido, � produto da evolu��o social a partir do s�culo XIX, pois nos s�culos XVII e XVIII na Fran�a as fam�lias aristocratas entregavam as crian�as desde o nascimento �s amas. A m�e tinha uma fun��o mais biol�gica que afetiva, ficando as crian�as ao cargo das amas que lhes garantiam a sobreviv�ncia f�sica, o suporte emocional e humaniza��o.
Segundo a autora, as atitudes maternas n�o pertencem ao dom�nio do instinto, mas continua-se a pensar que o amor da m�e � t�o forte que talvez tenha liga��o com a natureza. Este amor, sendo um sentimento humano, � fr�gil e imperfeito, n�o sendo, portanto um sentimento inato, mas que se desenvolve atrav�s das oscila��es s�cio-econ�micas e culturais da hist�ria.
A autora afirma que, no final do s�culo XVIII, aconteceu uma mudan�a de mentalidade, a imagem da m�e passa a ser vista como fundamental, as m�es passam a cuidar pessoalmente de seus filhos, sendo valorizada a sobreviv�ncia das crian�as. Ser boa m�e, amamentar, era de extrema import�ncia e valor para o bem da sociedade.
A psican�lise de alguma forma contribuiu para a manuten��o do mito do amor materno. Como exemplo, podemos citar Winnicott, que fala de uma m�e suficientemente boa, que deve atender as necessidades do seu beb�, sendo uma m�e devotada para com seu filho. Concordamos com o autor que uma m�e suficientemente boa seja importante para o desenvolvimento sadio da personalidade, entretanto pensamos que Winnicott delegou uma responsabilidade muito grande para a m�e, contribuindo para intensificar o sentimento de culpa naquelas que n�o t�m condi��es de serem �boas m�es�.
Percebemos que o mito do amor materno ainda est� presente em nossa sociedade, onde a m�e deve se dedicar inteiramente ao filho. Por isso, o nosso objetivo foi compreender o que acontece com as m�es que saem do padr�o de �normalidade�, quando precisam deixar seus filhos, durante toda a semana, aos cuidados da institui��o. Partimos da hip�tese de que essa forma de cuidado leva �s m�es ao estigma. Para falar do estigma, tomamos como te�rico Goffman (1988).
Em sua obra denominada Estigma, logo no pref�cio salienta que �h� mais de uma d�cada vem sendo apresentada uma quantidade razo�vel de trabalhos sobre estigma � a situa��o do indiv�duo que est� inabilitado para a aceita��o social plena.� (GOFFMAN, 1988, p 07).
Este livro ocupa-se especificamente com a quest�o dos contatos mistos, o momento em que os estigmatizados e os normais est�o na mesma situa��o social, ou seja, na presen�a f�sica imediata um do outro, quer durante uma conversa, quer na mera presen�a simult�nea numa reuni�o informal. Nesta rela��o aparece o estigma que � �um atributo profundamente depreciativo� e que, aos olhos da sociedade, serve para desacreditar a pessoa que o possui.
Goffman (1988) argumenta que o indiv�duo estigmatizado era visto, assim, como uma pessoa que possui �uma diferen�a indesej�vel�. Ele observa que o estigma � atribu�do pela sociedade com base no que constitui �diferen�a� ou �desvio�, e que � aplicado pela sociedade por meio de regras e san��es que resultam no que ele descreve como um tipo de �identidade deteriorada� para a pessoa em quest�o.
A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que t�m probabilidade de serem neles encontradas. As rotinas de rela��o social em ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento com �outras pessoas� previstas sem aten��o ou reflex�o particular. Ent�o, quando um estranho nos � apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus atributos, a sua �identidade social� [...](GOFFMAN, 1988, p.12)
Para Goffman (1988), durante todo o tempo, fazemos algumas afirmativas sobre aquilo que o indiv�duo que est� � nossa frente deveria ser. Assim, as exig�ncias que fazemos poderiam ser denominadas de demandas feitas �efetivamente�, e o car�ter que imputamos ao indiv�duo poderia ser encarado como uma imputa��o feita por um retrospecto em potencial. Uma caracteriza��o �efetiva�, ou seja, o que ele deveria ser, isso ele chama de uma identidade social virtual. A categoria e os atributos que de fato o indiv�duo possui, ser�o chamados de sua identidade social real.
Enquanto o estranho est� a nossa frente, podem surgir evid�ncias de que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em que pudesse ser inclu�do, sendo, at�, de uma esp�cie menos desej�vel � num caso extremo, uma pessoa completamente m�, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de consider�-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma criatura estragada e diminu�da ( GOFFMAN, 1988, p.12).
O estigma ser� usado nesse caso para caracterizar um efeito de descr�dito muito grande, considerado como um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem. � usado para referenciar um atributo profundamente depreciativo, mas, que na realidade est� ligado a uma linguagem de rela��es e n�o propriamente aos atributos. Todo atributo que coloca tra�os nos seres humanos e que os afasta das rela��es sociais cotidianas, destruindo a possibilidade de aten��o para outros atributos que o indiv�duo possua, s�o considerados estigmas. (GOFFMAN, 1988, p.14)
[...] o estigmatizado passa a ter caracter�sticas que s�o consideradas anormais pelos �normais�, ou seja, acreditamos que algu�m com um estigma n�o seja completamente humano e com base nessa cren�a fazemos v�rios tipos de discrimina��es e muitas vezes sem pensar reduzimos as chances de vida de uma pessoa. Nisso constr�i-se uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa (GOFFMAN, 1988, p.15).
Segundo Goffman (1988), os indiv�duos �normais� projetam as caracter�sticas estigmatizadas nos outros porque n�o suportam ver neles mesmos estas fragilidades. Na medida que atribuem aos outros os �defeitos�, n�o entram em contato consigo mesmos.
O indiv�duo estigmatizado passa por um processo de aceita��o do estigma. Num primeiro momento sente que ele � um ser humano �normal� e que os outros n�o s�o suficientemente humanos. E quanto mais o indiv�duo se distancia da identidade virtual mais chances ele tem de apresentar alguns atributos que o coloquem em uma categoria � parte.
O termo estigma e seus sin�nimos ocultam uma dupla perspectiva: Assume o estigmatizado que a sua caracter�stica distintiva j� � conhecida ou � imediatamente evidente ou ent�o que ela n�o � nem conhecida pelos presentes e nem imediatamente percept�vel por eles. No primeiro caso, est�-se lidando com a condi��o de desacreditado, no segundo com a do desacredit�vel (GOFFMAN, 1988, p.14).
Al�m de investigarmos se existe o estigma, pensamos tamb�m em alguns aspectos do luto dessas m�es que deixam seus filhos na institui��o. Para isso tomamos como referencial te�rico Motta (2001), que faz uma compara��o entre a perda ocorrida por morte e a perda sofrida pela mulher que entrega a crian�a em ado��o. Nessa �ltima, apesar de a crian�a continuar existindo, a perda � definitiva. A autora conta que as rea��es emocionais s�o similares, por�m essa m�e apresenta fantasias perturbadoras que intensificam sua culpa. Al�m disso, a sociedade considera como volunt�ria essa decis�o, por isso, o luto da m�e que entrega o filho � um luto n�o autorizado socialmente. (MOTTA, 2001)
De acordo com Motta (2001), no processo de perda e luto, cada cultura tem seus rituais pr�prios para permitir �s pessoas aceitar suas perdas, enlutando-se pela mesma, elaborando-as e superando-as. S�o pr�ticas estruturadas e atrav�s delas as pessoas que sofreram perdas recebem o reconhecimento da perda, o apoio emocional, o tempo necess�rio para elabor�-la e a possibilidade de manifestar seu luto aos outros.
Mas, quando as perdas n�o s�o socialmente aceitas, temos o luto n�o franqueado, para este n�o existem rituais sociais, a sociedade n�o conforta os enlutados, deixando-os distantes da possibilidade de superar a perda. Ent�o, o enlutado oculta seu luto at� de si pr�prio, n�o se permitindo viver sua dor. O luto n�o franqueado n�o � reconhecido, nem amparado e deve ser ocultado, porque quando revelado causa uma resposta social muito mais negativa. (MOTTA, 2001).
O luto n�o franqueado pode ser melhor compreendido atrav�s do conceito de n�o franqueamento intraps�quico. Motta (2001) chama a aten��o para este importante conceito. Nele operam as fontes intraps�quica e social que tanto podem unir-se sem distin��o ou influenciar-se mutuamente.
A autora diz que, no momento em que ocorre o n�o franqueamento social simultaneamente no n�vel intraps�quico, apesar de n�o serem evidentes as caracter�sticas, est�o sendo registrados fen�menos correspondentes. (MOTTA, 2001, p. 110)
No luto n�o franqueado o sentimento encontrado com freq��ncia � a vergonha, substituindo o lugar da dor e consequentemente apresentando assim, infinitos meios de negar, inibir e n�o elaborar o luto adequadamente. Aparentemente independe do que pensam e sentem os familiares e conhecidos a respeito do fato, porque o indiv�duo imp�e san��es contra si mesmo. (MOTTA, 2001)
Segundo Motta (2001) as m�es biol�gicas se auto censuram ao sentirem incapacidade no cumprimento do papel que a natureza lhes imp�e. A autora explica que a auto condena��o deve-se ao fato de que essas m�es internamente carregam os mesmos valores da sociedade da qual participam. Al�m disso, os sistemas religioso e legal, para as m�es que entregam seus filhos, contribuem para intensificar a culpa das mesmas. (MOTTA, 2001)
Segundo afirma Kauffmann (1989), apud Motta (2001, p.111), a perda de uma pessoa amada parece apresentar como resposta universal a culpa, e no luto n�o franqueado a intensidade da culpa possivelmente pode ser maior. Por isso, � importante trabalhar a resolu��o da culpa para evitar tentativa de autopuni��o. Sendo que, na resolu��o da culpa � necess�rio um processo interno de perd�o, repara��o e uma disposi��o para perdoar a si pr�prio. Motta (2001) diz que uma das formas de elaborar a culpa dessas m�es � a valoriza��o positiva de seu ato.
O objetivo da nossa pesquisa foi compreender se as m�es entrevistadas s�o estigmatizadas ao deixarem seus filhos durante toda a semana aos cuidados da institui��o. Quer�amos saber tamb�m como essas m�es conviviam com o sentimento de deixar seu filho na institui��o.
Os sujeitos deste estudo foram m�es que deixam seus filhos na institui��o pesquisada e que n�o tinham contato direto com os pesquisadores. Foi feito um sorteio aleat�rio e uma lista das m�es sorteadas. A partir desta lista entrevistamos as sete primeiras m�es que concordaram em participar.
As entrevistas foram gravadas e transcritas, mediante consentimento das m�es. Para obter os dados utilizamos a t�cnica da entrevista n�o-diretiva apresentada por Thiollent (1987). Foram feitas duas perguntas norteadoras:
Para an�lise dos dados, atrav�s das entrevistas transcritas, foi utilizado o m�todo de an�lise de conte�do, proposto por Bardin (2000).
Nesse momento � importante falarmos da dificuldade de se fazer uma pesquisa no mesmo local onde o pesquisador trabalha, pois esse foi o nosso caso. De fato, percebemos que nas entrevistas algumas m�es ficaram preocupadas em falar algo que as prejudicasse, ent�o falavam que seu filho estava sendo bem cuidado, que gostavam muito da institui��o. Dessa forma podemos dizer que filtraram informa��es, pois essas poderiam comprometer sua rela��o com a institui��o.
Na an�lise das entrevistas percebemos que o estigma da m�e que outorga sua responsabilidade de prote��o � crian�a a uma institui��o existe �s vezes de forma expl�cita, outras de forma sutil. Pretendemos identificar como isso acontece.
Percebemos nas entrevistas que as m�es que se afastaram da identidade social virtual, ao outorgarem sua responsabilidade de prote��o � crian�a a uma institui��o, tornaram-se estigmatizadas, pois h� uma discrep�ncia entre a identidade social virtual que � o que se esperava dessas m�es, que ficassem pr�ximas de seus filhos e a identidade social real, que � o fato de n�o atingirem essas expectativas ao deixarem seus filhos sob responsabilidade de uma institui��o. Isso leva a ser uma m�e desacreditada ou desacredit�vel. Elas deixam de ser criaturas comuns e totais e s�o reduzidas a pessoas estragadas e diminu�das, a quem s�o imputados atributos depreciativos, como veremos nas entrevistas:
"Falaram que eu n�o sou m�e, que eu n�o gosto dos meus filhos. Como � que deixei no col�gio interno. Essa � a rea��o das pessoas.�(M2)
�Ent�o eu fui muito criticada pelas pessoa que me conheciam, que conviviam comigo, que eu era louca de colocar meu filho num col�gio interno, de deixar o tempo todo longe de mim�.(M6)
�� porque eu falei que meu filho ficava no col�gio a semana inteira, achou ruim, criticou, entendeu? N�o entendeu o meu lado�.(M7)
Nesses relatos identificamos que essas m�es s�o desacreditadas, pois seu estigma j� � conhecido. J� no relato que segue, evidente a condi��o da m�e desacredit�vel, pois essa manipulou a informa��o sobre o seu �defeito�.
"Fui muito criticada pelas pessoas. Pela minha fam�lia, meus pais n�o. Nunca me falaram nada, sempre falaram �que bom, minha filha, estudar num col�gio de padre", nunca falei que era col�gio interno�.(M6)
Ao n�o falar que era um col�gio interno a m�e manipulou a informa��o sobre o seu �defeito�, pois, se revelasse, se tornaria desacreditada. A forma de manipula��o sobre o defeito gera tens�o, pois no caso da m�e ela estaria trabalhando com as seguintes possibilidades: revelar ou esconder, mentir ou n�o mentir, em cada caso, para quem, quando, como e onde. Podemos pensar que o defeito pode ser falado para algumas pessoas, que podem ter uma �aceita��o� maior sobre o mesmo, no caso de uma m�e que foi entrevistada, que falou para sua patroa que ia deixar o filho na institui��o e recebeu �apoio�. Aqui o interesse da patroa estava em jogo, pois segundo ela, a m�e poderia trabalhar sossegada com o filho na institui��o.
�A �nica pessoa que me apoiou o tempo inteiro foi a minha patroa na �poca, foi quem me apoiou o tempo inteiro, que me falou � ah que ben��o que voc� colocou esse menino l�, ele vai ficar bem, pelo menos voc� vai conseguir trabalhar sossegada�.(M6)
Entendemos que o desvio das m�es, objeto do nosso estudo, as leva a serem desconsideradas socialmente e segundo Motta (2001), aqueles que criticam seus atos n�o se sentir�o mobilizados a tentar compreender mais profundamente quais as condi��es que levam as m�es a deixarem seus filhos na institui��o.
Por isso, na parte que segue do trabalho, queremos mostrar o que h� por tr�s do estigma, destacando algumas condi��es que segundo as entrevistas das m�es as levam a deixar o filho na institui��o.
Analisando as m�es entrevistadas podemos pensar que a condi��o econ�mica � um dos principais motivos que as levam a deixarem os filhos na institui��o.
�...ficar longe dela, deixar com pessoas que n�o conhece, mas era o jeito que encontrei para eu trabalhar, senti um pouquinho de medo, mas eu pedi a Deus for�a e deixei nas m�os do Senhor preparar...� (M1)
"� que eu fiquei sozinha com o nen�m e eles tr�s, n�. Ent�o, fica assim. Pagava aluguel, assim n�o dava e eles estudavam l� meio per�odo s�. E eu precisava de algu�m para pegar eles na escola pra mim a� � que me falaram do col�gio." (M3)
�Tanto, quando a assistente social foi na minha casa, eu n�o estava, estava trabalhando, n�. E a vizinha conversou com ela, falou �n�o, se ela t�... se ela quer p�, porque ela precisa mesmo, ela n�o tem quem olhe a crian�a dela, a menina dela, ela n�o tem ningu�m.� (M5)
�Ent�o elas falavam: � ah, M. n�o tenho coragem de fazer isso com meus filhos, de deixar meus filhos longe�. Eu sei , mas falei: �mas eu preciso trabalhar, eu n�o tenho com quem deixar ele� (M6)
Entretanto, Motta (2001), ao falar da m�e que entrega o filho em ado��o, afirma que n�o � somente a condi��o econ�mica, mas um conjunto de circunst�ncias que envolvem a vida da mulher naquele momento.
Assim como as m�es que entregam as crian�as em ado��o, percebemos que as m�es entrevistadas que deixam seu filho na institui��o tamb�m dependem de um conjunto de circunst�ncias, tais como, a falta de apoio da fam�lia, a falta de um parceiro e, principalmente, a preocupa��o com o futuro dos filhos. Pois, querem retir�-lo da viol�ncia da rua. Esta preocupa��o � t�o imensa, por�m, n�o se d�o conta que no presente j� est�o sofrendo viol�ncias sociais e psicol�gicas. Mostram quanto � considerada inaceit�vel para essas m�es a conviv�ncia da crian�a na rua. Tal preocupa��o vem expressa sob a forma de temor de que o filho se torne um marginal.
�Porque eu tenho que trabalhar e pra ela n�o ficar o dia todo na rua. N�o ficar com companhias que n�o s�o boas.� (M2)
�E as crian�as onde moro s�o totalmente diferentes e tem tamb�m o pessoalzinho da rua, tem um cara l� que usa drogas. Ent�o eu queria tirar, porque c� deixa a crian�a sozinha em casa, ela vai para rua. Ela vai aprender coisa errada. Por mais que voc� deixa algu�m em cima, ela vai aprender coisa errada. Ent�o ficava com esse medo de ele ficar o dia inteiro na rua e n�o se alimentar direito, ele n�o entrar pra dentro de casa, ele se envolver com outras pessoas, porque a culpa vem, n�, se apavora.� (M4)
"Mas para as pessoas falavam que eu era louca e o que eu respondia era o seguinte: 'louca vou ficar se amanh� ou depois a pol�cia vier atras dele. Eu chegar em casa, ele n�o t�, t� na rua, s� Deus l� sabe o que, a� sim eu vou ficar louca, mas enquanto ele estiver l� eu tenho certeza que n�o vou ficar louca' "
(M6)Sobre a falta de um companheiro, apenas uma tem sua presen�a e mesmo assim n�o pode contar com sua participa��o no cuidado do filho.
�Meu marido dorme o dia todo porque ele trabalha � noite, ele n�o ia dar conta dele, entendeu?�.(M6)
Mesmo sofrendo press�es no n�vel social e familiar, est�o convictas de terem feito a melhor escolha. O que n�o as impede de sofrer e de ter que lutar de maneira interna e externa com o estigma. As m�es afirmam que o filho, na institui��o, est� melhor cuidado do que se estivesse com elas. Que s� est�o fazendo isso levando em conta o bem estar do filho, portanto, n�o o est�o abandonando.
�N�o, porque estou pensando no bem estar do meu filho, n�o no que os outros est�o pensando, est� falando. E outra, a pessoa que est� falando n�o est� ajudando em nada, se eu precisasse que fique com ele para mim trabalhar, n�o vai ficar.� (M2)
�Porque sei que ela est� em um bom lugar. Voc�s s�o umas �timas pessoas, s�o um pai e uma m�e pr� todas as crian�as aqui, que poucas m�es, eu acho que, reconhecesse isso.� (M5)
�Porque eu sabia que meu filho estava bem, ent�o o que as pessoas achavam ou deixavam de achar, isso � problema delas, num tava nem a�, entendeu?� (M6)
A rea��o das pessoas frente ao estigma da m�e que deixa o filho na institui��o contribui para intensificar o sentimento de culpa, pois, n�o compreendem o conjunto de circunst�ncias que as levou a compartilhar esse cuidado. Por isso, achamos importante falar sobre o luto n�o franqueado que est� relacionado com este sentimento.
Nos finais de semana quando as m�es deixam os filhos na institui��o, sofrem uma interrup��o do v�nculo nesta separa��o que parece estar carregada de infinita dor para ambos, ocorrendo uma �perda tempor�ria� sem possibilidade de compartilhar e elaborar o luto.
�Fiquei triste, n�. No primeiro dia fiquei triste, n� . Quantas vezes, vim e sentei l� fora. A� eu voltava, eu chorava e voltava, n�. Depois de duas semanas me acostumei. Fico triste de deixar eles a�, n�.�
�Chorava. Muitas vezes perdi o �nibus e ficava ali sentada, ali fora para ver se via algum deles, n�. No primeiro dia que ele entrou, na primeira semana, fiquei muito triste. A� eu ficava l� fora, nunca eles desgrudaram de mim, foi a primeira vez.� (M3)
�Fiquei com saudade, muita saudade (chorou). Acostumada dormir com ele todas as noites agora ter que dormir sozinha, n�o saber como que ele t� � noite, se ele t� bem, se ele ficou se cobriu direito. Ele sempre se descobre � noite, n�, ent�o, eu tenho que acordar de madrugada e lhe cobrir. Ah, � muita saudade, e � dif�cil pra mim, n�, porque � a �nica companhia que eu tenho, ent�o fica dif�cil. Um pouquinho... � s� eu me acostumar. (riu)� (M4)
�Como eu me senti? �, ah, cada fim de semana que eu deixo ele aqui � muito triste, n�. Por eu n�o t� com ele assim, podendo acompanhar mais ele, porque ele passa a maioria do tempo aqui, fica muito pouco tempo comigo, n� , ent�o. Sei l�, pr� mim ainda � muito dif�cil, tanto pra mim como pra ele. � muito dif�cil, mas a gente j� aceita mais assim, voc� entendeu?� (M7)
Constatamos que o enlutado oculta seu luto at� de si pr�prio, n�o se permitindo viver sua dor. Nesse caso n�o � poss�vel, nem chorar, nem lastimar, n�o h� reconhecimento social do direito e da capacidade de enlutar-se.
�Falavam essa express�o mesmo: �Ah, M. voc� � louca, colocar seu filho l�, voc� fica longe dele a semana inteira, ele fica assim sozinho l� tamb�m�. Ent�o as pessoas n�o viam a minha necessidade.� (M6)
�� porque eu falei que meu filho ficava no col�gio a semana inteira, achou ruim, criticou, entendeu? N�o entendeu o meu lado.�
�Ah, sei l� , achou que eu num... assim tipo, num gosto do meu filho, eu entendi assim. S� que n�o � nada disso, pelo contr�rio, gosto demais do meu filho.� (M7)
Uma das formas de elaborar a culpa dessas m�es � a valoriza��o positiva de seu ato. Nas entrevistas, as m�es expressaram-se no sentido de que estavam pensando no melhor para seu filho, isto � um lado positivo, por�m, no que diz respeito �s exig�ncias do amor materno, gera um lado negativo, pois essas m�es deveriam ficar com seus filhos a qualquer custo e segundo Motta (2001), este sentimento de ambival�ncia � um dos complicadores na elabora��o do luto.
�Porque filho tem que ficar ao lado da m�e, n�. Assim, chega de noite, voc� quer t� com seu filho perto de voc�, n�. Agora n�o estou mais assim igual era antes, sei que aqui voc�s, deles cuidam muito bem.� (M3)
�O que eu senti? Um vazio muito grande, dentro de mim. Sabe, como se sente um vazio, parece que tira alguma coisa de dentro de voc�, senti um vazio muito grande, mas em parte fiquei feliz, porque sabia que ela estava num bom lugar.� (M5)
Os fatos comuns dessas m�es que deixam os filhos na institui��o, tais como, falta de apoio moral, afetivo e econ�mico, s�o os mesmos fatores respons�veis pelo aumento na dificuldade de elabora��o do luto e por refor�ar a ambival�ncia de que por um lado est�o fazendo, segundo elas, o melhor para seu filho e por outro, devido � press�o social, est�o sendo desumanas ao deix�-lo na institui��o, pois a m�e que ama n�o deve deix�-lo ou abandon�-lo.
Percebemos que existe o mito do amor materno e por esse amor a m�e deve se sacrificar pelo bem do seu filho de maneira incondicional. A m�e que n�o demonstra esse amor, socialmente � considerada anormal e desnaturada, pois nessa vis�o o amor � natural. No caso das m�es objeto de nosso estudo, ao outorgarem sua responsabilidade de prote��o � crian�a a uma institui��o, tornaram-se estigmatizadas, devido � discrep�ncia entre a identidade social virtual que � o que se esperava dessas m�es, que ficassem pr�ximas de seus filhos e a identidade social real, que � o fato de n�o atingirem essas expectativas ao deixarem os seus filhos sobre responsabilidade de uma institui��o. Para Goffman (1988) quando conhecida ou manifesta, essa discrep�ncia estraga a sua identidade social e tem como efeito afastar o indiv�duo da sociedade e de si mesmo de tal modo que acaba sento uma m�e desacreditada ou desacredit�vel. Elas deixam de ser criaturas comuns e totais e s�o reduzidas a pessoas estragadas e diminu�das.
Constatamos tamb�m que o estigma impede de olharmos para o conjunto de circunst�ncias, que faz com que a m�e deixe seu filho na institui��o, tais como, a falta de apoio da fam�lia, a falta de um parceiro e principalmente a preocupa��o com o futuro dos filhos.
Identificamos que as m�es ao deixarem os filhos na institui��o vivem o luto n�o franqueado, que � um luto n�o autorizado socialmente. Por isso, sua culpa � intensificada e contribui para adiar, bloquear ou prolongar seu luto. Elas se conformam e se submetem a um intenso sofrimento sem queixas e n�o se acham no direito de esperar por algo melhor.
A �nica esperan�a dessas m�es � de que seus filhos possam ter melhores condi��es de vida. Diante dessa preocupa��o das m�es, nos perguntamos quais s�o as reais possibilidades de mudan�as para essas crian�as? Segundo Chaves (1998, p.450), �A prote��o oferecida pela institui��o n�o as qualifica para superarem a condi��o de vida indigna que tinham anteriormente. Na verdade, continuar�o sendo tolhidas de ocuparem e estabelecerem intera��es em outros espa�os sociais, de auferirem do seu direito ao ensino escolar de qualidade, de planejarem um futuro profissional que permita a mudan�a na sua condi��o social.�
Na sociedade atual uma das principais metas � o bem estar da crian�a, enquanto essas m�es n�o t�m a mesma import�ncia e sofrem press�es internas e externas sem receber qualquer apoio. Como sabemos, temos um grande contingente da popula��o vivendo na extrema pobreza e que vai sobrevivendo atrav�s de familiares e amigos. Essa situa��o vem se agravando a cada dia e revela um problema importante para nosso pa�s, onde atualmente v�m se enfraquecendo as pol�ticas p�blicas sociais. Portanto, as pessoas que apresentam qualquer situa��o que as impe�a de se manterem economicamente, e que n�o tenham nenhum apoio, especialmente familiar, ficam predispostas a uma situa��o de completo abandono, com um agravante ainda maior, a de que elas pr�prias n�o poder�o lutar pelos seus direitos. Entendemos que � preciso desenvolver pol�ticas sociais que se preocupem tamb�m com essas m�es, pois segundo Motta (2001, p.24), �essas crian�as s�o a prova viva de que cuidar da m�e significa cuidar do filho.�
Por favor firme nuestro libro de visitas.